|
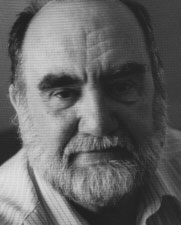
Herberto Helder
Caros amigos,
Nascido na ilha da Madeira em 1930, o português Herberto Helder de Oliveira
freqüentou a Faculdade de Letras de Coimbra e trabalhou como jornalista,
bibliotecário, tradutor e locutor de rádio. Começou a escrever desde cedo e, nos
anos 50, tornou-se um dos pioneiros do surrealismo em Portugal. Embora, depois,
tenha se afastado do movimento, sua poesia guarda profundas marcas da estética
surrealista.
Estreou em 1958 com o livro O Amor em Visita e, desde então, já publicou
mais de uma vintena de títulos. Em 1967, Herberto Helder foi julgado no Supremo
Tribunal de Lisboa por ter colaborado na edição de Filosofia na Alcova,
de Sade. Foi condenado a três anos de prisão (pensa suspensa) e expulso do
emprego na Emissora Nacional.
Em 1994, com o livro Do Mundo, foi destacado com o Prêmio Pessoa, com uma
dotação em dinheiro equivalente a 30 mil dólares. Herberto Helder, como já
fizera outras vezes, recusou o prêmio, mantendo sua posição avessa a homenagens.
Os poemas mostrados aqui fazem parte da antologia brasileira O Corpo O Luxo A
Obra, selecionada e apresentada por Jorge Henrique Bastos. Segundo Bastos, a
poesia de Herberto Helder é "decisiva e órfã". Ainda em suas palavras, "a
insubmissão de Herberto Helder é única na generalidade da literatura de língua
portuguesa". De fato, não há outro poeta com obra similar.
O poema caudaloso, freqüentemente dividido em partes, é um traço marcante na
obra de Helberto Helder. Nesta apresentação fiquei no dilema: escolher um único
texto e prejudicar a diversidade; ou então selecionar partes dos poemas,
correndo o risco da mutilação. Venceu a segunda alternativa, que favorece aqui a
transcrição de vários trabalhos do poeta, escritos nos anos 50, 60 e 80.
Abraço,
Carlos Machado
• • •
|
Essa cidade, gota sombria
|
|
Herberto Helder |
|
|
O AMOR EM VISITA
Dai-me uma jovem mulher com sua harpa de
[ sombra
e seu arbusto de sangue. Com ela
encantarei a noite.
Dai-me uma folha viva de erva, uma mulher.
Seus ombros beijarei, a pedra pequena
do sorriso de um momento.
Mulher quase incriada, mas com a gravidade
de dois seios, com o peso lúbrico e triste
da boca. Seus ombros beijarei.
Cantar? Longamente cantar.
Uma mulher com quem beber e morrer.
Quando fora se abrir o instinto da noite e uma
[ ave
o atravessar trespassada por um grito marítimo
e o pão for invadido pelas ondas —
seu corpo arderá mansamente sob os meus olhos
[ palpitantes.
Ele — imagem vertiginosa e alta de um certo
[ pensamento
de alegria e de impudor.
Seu corpo arderá para mim
sobre um lençol mordido por flores com água.
Em cada mulher existe uma morte silenciosa.
E enquanto o dorso imagina, sob os dedos,
os bordões da melodia,
a morte sobe pelos dedos, navega o sangue,
desfaz-se em embriaguez dentro do coração
[ faminto.
— Oh cabra no vento e na urze, mulher nua sob
as mãos, mulher de ventre escarlate onde o sal
[ põe o espírito,
mulher de pés no branco, transportadora
da morte e da alegria.
Dai-me uma mulher tão nova como a resina
e o cheiro da terra.
Com uma flecha em meu flanco, cantarei.
E enquanto manar de minha carne uma videira de
[ sangue,
cantarei seu sorriso ardendo,
suas mamas de pura substância,
a curva quente dos cabelos.
Beberei sua boca, para depois cantar a morte
e a alegria da morte.
Dai-me um torso dobrado pela música, um ligeiro pescoço de planta,
onde uma chama comece a florir o espírito.
À tona da sua face se moverão as águas,
dentro da sua face estará a pedra da noite.
— Então cantarei a exaltante alegria da morte.
(...)
De A Colher na Boca (1953-1960)
EM SILÊNCIO DESCOBRI ESSA CIDADE NO MAPA
Em silêncio descobri essa cidade no mapa
a toda a velocidade: gota
sombria. Descobri as poeiras que batiam
como peixes no sangue.
A toda a velocidade, em silêncio, no mapa —
como se descobre uma letra
de outra cor no meio das folhas,
estremecendo nos ulmos, em silêncio. Gota
sombria num girassol —
essa letra, essa cidade em silêncio,
batendo como sangue.
Era a minha cidade ao norte do mapa,
numa velocidade chamada
mundo sombrio. Seus peixes estremeciam
como letras no alto das folhas,
poeiras de outra cor: girassol que se descobre
como uma gota no mundo.
Descobri essa cidade, aplainando tábuas
lentas como rosas vigiadas
pelas letras dos espinhos. Era em silêncio
como uma gota
de seiva lenta numa tábua aplainada.
Descobri que tinha asas como uma pêra
que desce. E a essa velocidade
voava para mim aquela cidade do mapa.
Eu batia como os peixes batendo
dentro do sangue — peixes
em silêncio, cheios de folhas. Eu escrevia,
aplainando na tábua
todo o meu silêncio. E a seiva
sombria vinha escorrendo do mapa
desse girassol, no mapa
do mundo. Na sombra do sangue, estremecendo
como as letras nas folhas
de outra cor.
Cidade que aperto, batendo as asas — ela —
no ar do mapa. E que aperto
contra quanto, estremecendo em mim com
[ folhas,
escrevo no mundo.
Que aperto com o amor sombrio contra
mim: peixes de grande velocidade,
letra monumental descoberta entre poeiras.
E que eu amo lentamente até ao fim
da tábua por onde escorre
em silêncio aplainado noutra cor:
como uma pêra voando,
um girassol do mundo.
De A Máquina Lírica
(1963)
CANÇÃO EM QUATRO SONETOS
(Soneto 2)
Tantos nomes que não há para dizer o silêncio —
a combustão interior do tempo;
uma maçã cortada, uma pomba de éter:
o pensamento.
Não te chames mais, adolescente
comendo uvas negras.
Abres a camisa em que escutas todas as mãos do
[ vento.
E vês atrás de ti as máquinas resolutas
de fabricar as formas rápidas,
e convulsas, do esquecimento.
Isto no ar há de ficar como frio limpo.
O meu nome parou diante
do instante mortal que o guardara.
Evapora-se a roupa, mas não sinto.
De Cinco Canções Lacunares (1965-1968)
ÚLTIMA CIÊNCIA (1985)
4
A solidão de uma palavra. Uma colina quando a
[ espuma
salta contra o mês de maio
escrito. A mão que o escreve agora.
Até cada coisa mergulhar no seu baptismo.
Até que essa palavra se transmude em nome
e pouse, pelo sopro, no centro
de como corres cheio de luz selvagem,
como se levasses uma faixa de água
entre
o coração e o umbigo.
•
Ninguém sabe se o vento arrasta a lua ou se a lua
arranca um vento às escuras.
As salas contemplam a noite com uma atenção
[ extasiada.
Fazemos álgebra, música, astronomia,
um mapa
intuitivo do mundo. O sobressalto,
a agonia, às vezes um monstruoso júbilo,
desencadeiam
abruptamente o ritmo.
— Um dedo toca nas têmporas, mergulha tão
[ fundo
que todo o sangue do corpo vem à boca
numa palavra.
E o vento dessa palavra é uma expansão da
[ terra.
•
Quem bebe água exposta à lua sazona depressa:
olha as coisas completas
O barro enlaça a água que suspira lunarmente
que impregna o barro com a sua palpitação
aluada.
São uma coisa única
e plena: uma bilha. Quem bebe e olha
fica
misterioso, maduro.
Tudo se ilumina da altura de uma pessoa imóvel.
Quem se dessedenta delira,
vê a obra:
O que se bebe das bilhas que a lua
enaltece — água e nome
na boca.
•
A arte íngreme que pratico escondido no sono
[ pratica-se
em si mesma. A morte serve-a.
Serve-se dela. Arte da melancolia e do instinto.
Quando agarro a cara, a rotação do mundo faz rodar
a olaria astronômica: uma cara
chamejante, múltipla, luxuosa.
Deus olha-a.
E a arte alta do sono fica pesada:
— Mel, o mel em brasa, a substância
potente, elementar ardente, obscura, doce de
[ uma doçura
fortíssima,
o mel,
arrebatada. Uma arte inextricável que,
pela doçura, enche as bolsas cruas
da carne, embriaga, queima tudo, mata,
mata.
•
O dia abre a cauda de água, o copo
vibra com tanta força,
as unhas fulguram sobre a toalha.
Cada palavra pensa cada coisa.
Entre imagens de ouro e vento, a constelação
[ arterial dos objectos
do mundo alarga os braços furiosamente
de abismo a abismo.
A mão convulsa manobra a vida máxima.
E então sou devorado pelos nomes
selvagens.
•
O canteiro cheira à pedra. Da rosa cavada nela
[ cheirará,
por dedos e pensamento,
à obra? Abre uma coroa. A pedra fecha-se
na sua teia de água. Com tantos martelos secos,
com tanta idade louca, com tanta pedra
inteligente, com tanta mão aluada — o canteiro
[ desentranha
outra mão: — A mão do nervo
da pedra, rosa
assustadora:
Que desentranha a prumo forte, em ebriedade
e inclinação de lua. Enxofre, sal, rosa
potente. — O canteiro é a sua
rosa, a sua
obra
desabrochada.
De Última Ciência (1985, revisto em 1987)
|